Nas ações de prestação de contas, se constatada a existência de pedido genérico, é impossível a emenda da petição inicial depois de apresentada a contestação pelo réu. A decisão é da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento realizado no dia 23 de junho.
A jurisprudência do STJ admite a emenda da inicial após o oferecimento da contestação desde que isso não implique alterações no pedido ou na causa de pedir, mas a turma concluiu que esse não era o caso dos autos e reformou a decisão de segunda instância.
O recurso provido era de uma instituição financeira que, em primeira instância, foi condenada a prestar contas referentes às movimentações do cartão de crédito do cliente durante todo o período do contrato no prazo de 48 horas.
Falta de interesse
Ao julgar a apelação, o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) reconheceu que o pedido do autor da ação era genérico, já que não especificava período nem indicava os lançamentos duvidosos, razão pela qual entendeu que lhe faltava interesse processual (utilidade ou necessidade do provimento judicial).
Mesmo assim, considerando que a extinção do processo sem resolução do mérito não impediria o autor de entrar com nova ação, o TJPR, de ofício – isto é, sem pedido da parte –, cassou a sentença para dar a ele a oportunidade de, em dez dias, emendar a petição inicial e especificar concretamente os encargos que pretendia ver esclarecidos, além do período a ser abrangido pela prestação de contas.
Extinção
Ao contrário do entendimento do tribunal de origem, o relator do recurso no STJ, ministro Villas Bôas Cueva, afirmou que o caso não configura situação excepcional capaz de autorizar a emenda da petição inicial após a contestação do réu.
Ele lembrou que, conforme já definido pela Segunda Seção do STJ (REsp 1.231.027), é imprescindível que o titular da conta-corrente indique na inicial ao menos o período em relação ao qual busca esclarecimentos, com a exposição de motivos consistentes – ocorrências duvidosas que justifiquem a provocação do Poder Judiciário por meio da ação de prestação de contas.
Por isso, segundo o ministro, no caso julgado, a emenda da inicial modificaria tanto o pedido, com a inclusão do período, quanto a causa de pedir, com a apresentação dos motivos – “o que impede a determinação de tal providência e impõe o reconhecimento da extinção do processo sem julgamento do mérito”.


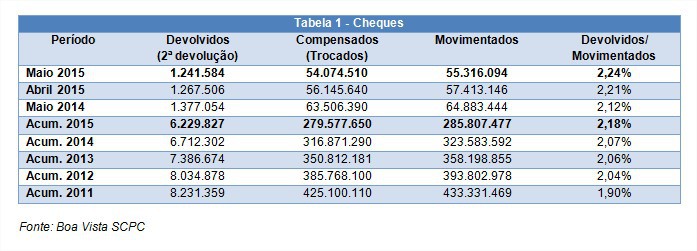
 (21) 9 7864-8108
(21) 9 7864-8108